Brasil, dependência e subordinação
Por que o Brasil, com sua imensa riqueza natural e potencial humano, ainda ocupa um lugar subordinado no cenário mundial?
POLÍTICAHUGO PONTES
9/26/20255 min ler
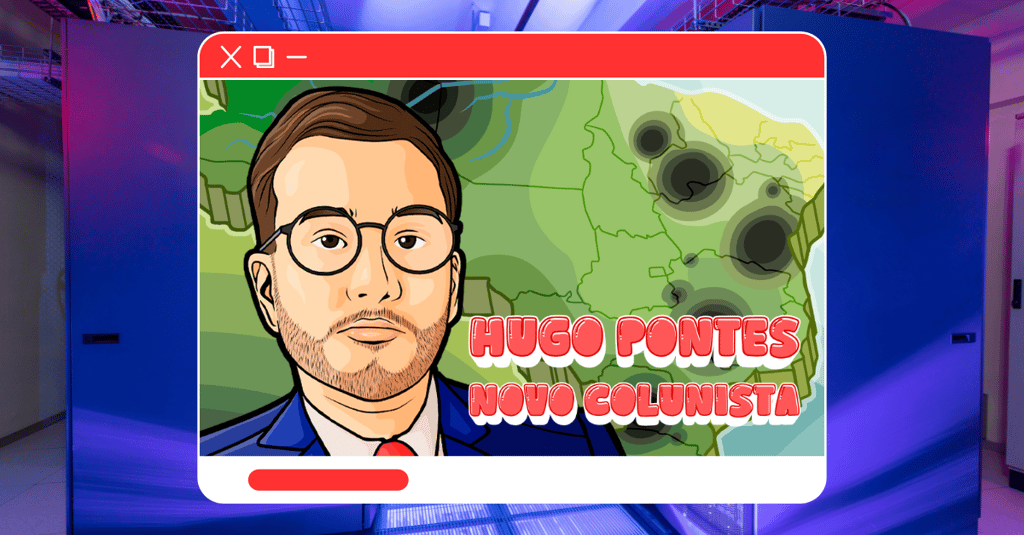
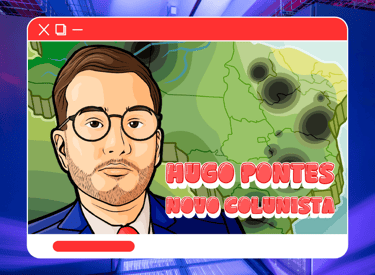
A resposta não se encontra em um fator isolado, mas em um processo histórico de longa duração, estruturado pela lógica do capitalismo dependente. Nossa condição periférica não é acidente, tampouco atraso circunstancial: é resultado de uma engrenagem global que moldou o Brasil desde a colônia até a era digital, sempre inserido como sócio minoritário de um projeto que não controla.
A gênese de um país voltado para fora
Desde o período colonial, a economia brasileira foi organizada não para os habitantes do território, mas para atender à acumulação de riqueza na Europa. A colônia não foi espaço de povoamento e desenvolvimento interno, mas de saque e exportação. O açúcar no Nordeste, o ouro em Minas Gerais, o café no Sudeste: cada ciclo reforçava a lógica de extrair recursos naturais e força de trabalho para enriquecer metrópoles externas.
Essa herança deixou marcas profundas
O Brasil não construiu um mercado interno sólido nem uma burguesia nacional comprometida com a soberania. Pelo contrário: nossas elites sempre prosperaram associadas ao capital estrangeiro e à exportação de produtos primários, aceitando a condição de intermediárias de uma ordem mundial desigual.
A industrialização dependente e a superexploração
No século XX, a questão da dependência ganhou forma teórica com os intelectuais latino-americanos que romperam com a ideia ingênua de que o subdesenvolvimento era apenas “atraso”. Mostraram que a periferia do capitalismo não estava em uma fase inicial rumo ao desenvolvimento pleno, mas em uma posição estrutural de subordinação.
A industrialização brasileira confirmou esse diagnóstico. Mesmo quando se acelerou, a partir da era Vargas e especialmente no pós-Segunda Guerra, ela não rompeu a lógica dependente. As grandes empresas que aqui se instalaram o fizeram em associação com capital estrangeiro e tecnologia importada.
Para competir no mercado mundial, recorreram ao mecanismo da superexploração do trabalho: salários comprimidos abaixo do necessário para a reprodução da força de trabalho, jornadas intensas e precarização permanente. Essa não é uma anomalia brasileira, mas uma forma específica de extração de mais-valor nas economias dependentes. O resultado foi crescimento econômico com concentração de renda, desigualdade social e contínua drenagem de riqueza para fora.
Mesmo no “milagre econômico” da ditadura militar, quando o PIB crescia a taxas altíssimas, a autonomia nacional era ilusória. O modelo de “desenvolvimento associado” deixava o Brasil preso a decisões estratégicas tomadas em Washington, Londres ou Nova York, enquanto a dívida externa explodia e as multinacionais controlavam setores-chave da economia.
A dependência na era neoliberal
A crise dos anos 1980 abriu espaço para o receituário neoliberal, aprofundando a condição dependente. Privatizações, desregulamentação, submissão ao FMI e abertura comercial reforçaram a posição subordinada do Brasil no capitalismo global. O Estado deixou de atuar como indutor do desenvolvimento para assumir o papel de garantidor do capital financeiro.
Nesse período, o país consolidou sua vocação agroexportadora em torno da soja, da carne e de minérios, tornando-se ainda mais vulnerável às oscilações do mercado externo e aos interesses das corporações transnacionais. O Brasil produzia muito, mas para fora. Enquanto isso, internamente, o desemprego estrutural e a precarização se tornavam permanentes.
A nova face da dependência: Trump 2025, big techs e soberania digital
Na era digital, a dependência brasileira adquiriu uma nova complexidade. A submissão deixou de ser dominada apenas pelas velhas dinâmicas da exportação de commodities e do endividamento externo e incorporou facetas inescapavelmente tecnológicas, políticas e geopolíticas.
Em 2025, o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos significou um governo de forte intervencionismo. Em abril, Washington impôs tarifas de 10 % sobre produtos brasileiros. Em agosto, escalou a ofensiva com uma sobretaxa que elevou o total para 50 %, sob o pretexto de “segurança nacional”, mas em realidade como retaliação política, tanto pelo apoio explícito de Lula ao processo contra Jair Bolsonaro quanto pelas disputas normativas envolvendo as plataformas digitais no Brasil. A decisão foi tomada unilateralmente e formalizada por ordem executiva, declarando “emergência nacional” e transformando o Brasil em alvo de uma política de chantagem tarifária.
Essa escalada coincidiu com outra ofensiva simbólica e institucional: a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Ao usar um instrumento jurídico concebido para sancionar violações de direitos humanos como arma diplomática contra uma autoridade do Supremo Tribunal Federal, Trump não apenas atingiu um indivíduo, mas interferiu diretamente na soberania institucional do Brasil. O recado era inequívoco: o Judiciário brasileiro também poderia ser enquadrado como obstáculo aos interesses norte-americanos. O que se apresenta como “defesa da democracia” é, na prática, mais um dispositivo de dominação, em que Washington define quem é legítimo ou ilegítimo dentro de outro país.
A resposta brasileira foi dura. Lula acionou a Organização Mundial do Comércio, mobilizou a lei de reciprocidade comercial e anunciou mais de 5 bilhões de dólares em créditos e incentivos fiscais para amparar os exportadores nacionais, denunciando a ofensiva americana como chantagem inaceitável. Mas o episódio expôs a fragilidade estrutural da posição brasileira: mesmo reagindo, o país ainda se vê obrigado a jogar um jogo cujas regras são ditadas por Washington.
Para além das tarifas e sanções, a soberania brasileira é diariamente corroída pela dependência das big techs. Google, Meta, Amazon e outras não apenas controlam dados e infraestrutura digital, mas mediam o espaço público, decidem unilateralmente o que circula, quais vozes são amplificadas ou silenciadas, e ainda acumulam poder econômico sobre setores inteiros. O Brasil é grande consumidor de tecnologia, mas não produtor; é um território digital colonizado, cuja vida política e cultural se dá sob a supervisão algorítmica de corporações estrangeiras. Essa dependência não é apenas econômica: é ideológica, cultural e política.
Em suma, a dependência contemporânea não é mais apenas a velha subordinação exportadora. Ela se apresenta como um regime de soberania limitada, em que tarifas, sanções jurídicas e monopólios digitais se articulam para manter o Brasil em posição periférica. A luta pela emancipação exige romper com esse tripé de submissão, econômico, tecnológico e institucional, e reconstruir uma soberania real, que não se curve nem a Trump, nem às big techs, nem a qualquer império.
Ruptura ou submissão
A dependência não se supera com alinhamentos automáticos a potências hegemônicas, nem com ilusões de que o crescimento econômico, por si só, resolverá as contradições. É necessário um projeto nacional de soberania, capaz de enfrentar tanto a dependência tradicional, marcada pela exportação de commodities e pela superexploração do trabalho, quanto as novas formas de subordinação digital e tecnológica.
Isso exige investimentos maciços em ciência, tecnologia e educação, fortalecimento do mercado interno, defesa estratégica dos recursos naturais e, sobretudo, uma política externa autônoma, que coloque os interesses nacionais acima da submissão ideológica. O desafio histórico é romper com a lógica do “desenvolvimento associado” e construir um caminho de soberania efetiva.
Sem essa ruptura consciente, o Brasil continuará a ocupar o lugar que o capitalismo global lhe reserva: periferia exportadora, laboratório de superexploração e mercado cativo das big techs. Com ela, poderá finalmente traçar seu próprio destino, não como apêndice das grandes potências, mas como sujeito ativo da história.
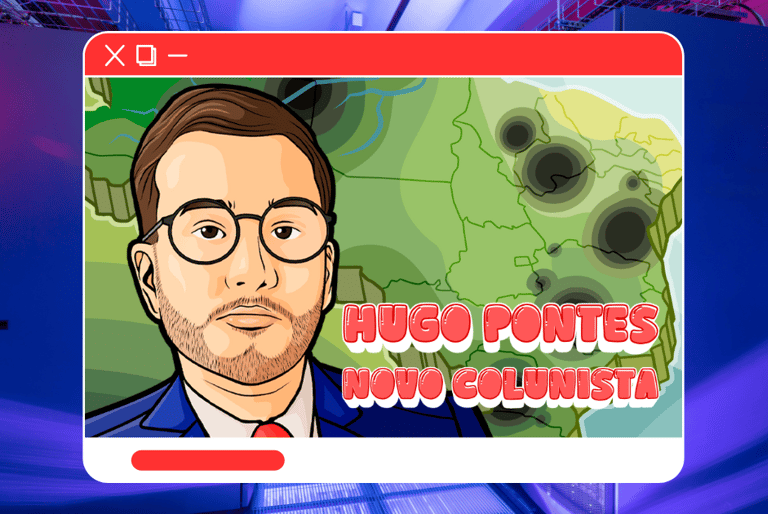

SIGA NO INSTAGRAM
BOLCHENEWS
Fique por dentro das últimas notícias
contato
© 2025. All rights reserved.
